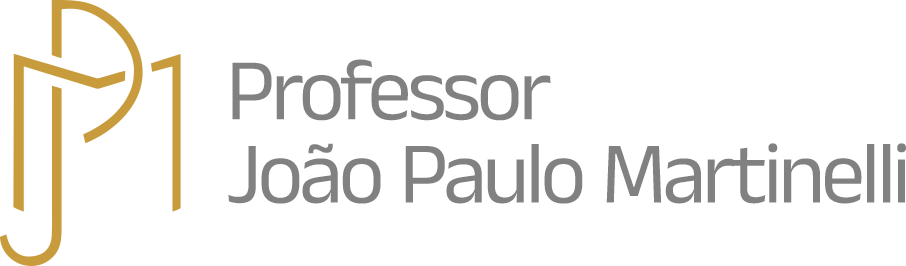Algumas observações sobre os limites de criminalização de comportamentos.
Um dos embates mais conhecidos e importantes para o direito penal aconteceu na primeira metade do século XX e ainda hoje levanta questionamentos tanto no processo de criminalização de condutas, no âmbito legislativo, quanto na aplicação da norma pelo magistrado. Trata-se da famosa polêmica entre Herbert Lionel Adolphus Hart e Patrick Arthur Devlin. O primeiro apresentou ideias de cunho liberal, segundo as quais o Estado não poderia interferir na vida privada das pessoas se não houvesse qualquer atentado aos interesses públicos; o segundo defendia a tutela da moral – inclusive pelo direito penal – como interesse para a estabilidade social.
Na filosofia do direito, Devlin é considerado um moralista, enquanto Hart enquadra-se como um liberal. Em síntese, o liberalismo legal é a concepção segundo a qual a única razão moralmente legítima para a proibição criminal de um comportamento é a prevenção de lesões ou perigo a pessoas alheias ao próprio agente e incapazes de consentir. Por outro lado, o moralismo legal sugere que, muitas vezes, é legítimo criminalizar condutas para prevenir ações simplesmente porque estas são “inerentemente imorais” (imorais por si mesmas), mesmo que não causem lesões ou criem perigo não consentidos a terceira pessoa.
Dessa forma, Hart afirmava o princípio do dano a terceiros como fundamento legitimador do direito penal, enquanto Devlin foi fiel defensor do moralismo legal. Para Hart, não basta um comportamento ser imoral aos olhos do intérprete para ser crime; é necessário que haja potencial lesivo a bem jurídico alheio. Num Estado democrático, a regra deve ser a liberdade e, portanto, para uma conduta ser proibida deve haver um argumento muito forte a favor. Este não pode ser uma valoração apenas de ordem moral, isto é, deve haver, no mínimo, uma situação de perigo a interesse alheio. Por outro lado, Devlin considera que a moral em si é um bem jurídico passível de tutela penal, pois é dela que depende a existência da sociedade. Tem-se, aqui, um paradoxo entre um direito penal mínimo (ultima ratio) e um direito penal totalitário (lei e ordem).
Apenas para ilustrar os reflexos dessa discussão, remetemo-nos ao Comitê Wolfenden. O comitê foi instituído na década de 1950, no Reino Unido, com o objetivo de estabelecer os limites de criminalização de atos imorais. Um dos pontos principais foi o crime de práticas homossexuais consentidas entre adultos. Após diversas reuniões, foi elaborado minucioso relatório, por seus 13 membros, no qual consta a decisão majoritária de que não há potencial lesivo na homossexualidade de adultos (à época, os maiores de 21 anos). Destacam-se alguns trechos do relatório: “a sociedade e a lei devem respeitar a liberdade individual de comportamentos que dizem respeito à moralidade privada” e “a moralidade ou a imoralidade privadas não são da conta da lei”.
Trazendo o embate aos tempos atuais, questiona-se: qual o fundamento para um direito penal mínimo no Estado democrático de direito? Um dos bens mais preciosos de uma pessoa é sua liberdade, reconhecida pela Constituição Federal como um dos direitos fundamentais. A liberdade deve ser a regra em qualquer ordenamento jurídico, podendo ser reduzida ou restringida somente em situações excepcionais em que as medidas se fazem necessárias. O Estado deve promover todos os meios para que a liberdade individual seja usufruída por todos os indivíduos, da melhor forma, sem intromissões desnecessárias. Ao se relacionar liberdade e direito penal, não se pode ficar restrito à pena privativa de liberdade. Quando o legislador criminaliza um comportamento, retira-se uma parcela da liberdade de agir das pessoas. Ou seja, o direito penal é o instrumento de controle social formal que limita a liberdade de todos, pois a prática da conduta proibida sujeita o infrator ao cumprimento de uma pena. E, mesmo que não haja uma sanção, há a estigmatização de ter incorrido num ato ilícito.
Examinando-se atentamente a liberdade como um dos direitos individuais mais importantes, e o direito penal um instrumento de controle social formal, conclui-se que a criminalização de uma conduta só pode ser legitimada quando houver, do outro lado, um perigo ou uma lesão efetiva a um bem jurídico relevante. O custo de restringir a liberdade de comportamento é muito grande para criminalizar-se qualquer coisa. Há que se observar um bem jurídico de grande valia à harmonia social e as ameaças potenciais à sua integridade. Ou seja, o fundamento maior do princípio da lesividade é o reconhecimento da liberdade como bem essencial à sociedade.
Desse modo, a criminalização de comportamentos meramente imorais está vedada em nosso sistema jurídico. Entretanto, vários são os exemplos de tipos penais – crimes e contravenções – que violam esse princípio. Pode-se citar, entre outros, a vadiagem, o ato obsceno, a apologia ao crime e ao criminoso, a importunação ofensiva ao pudor e a casa de prostituição. A inconveniência de determinada conduta, que pode causar incômodo ou gerar mal estar, não é suficiente para sustentar sua criminalização. O que é imoral para uns, pode não sê-lo para outros, isto é, a valoração muito variável do injusto pode conduzir o processo de criminalização a níveis de autoritarismo do Estado. Criminalizar atos meramente imorais nada mais significa que a imposição de um padrão de comportamento por meio das normas penais.
O embate entre Hart e Devlin é sempre atual. A ameaça constante de um Estado arbitrário, o “grande pai”, que pretende controlar a vida dos indivíduos, requer cautelas. Há tipos penais que devem ser repensados e, quem sabe, eliminados da ordem jurídico-penal. Ao se pretender proteger a pessoa contra um mal, utilizando-se de sanções criminais, opta-se por uma solução inidônea. O direito penal é um mal em si mesmo e deve ser encarado como o mais amargo dos remédios para a solução de conflitos. Não é sua função estabelecer um padrão de comportamento, mas apenas exigir o mínimo de cada indivíduo para uma convivência harmoniosa, independentemente da privacidade de cada um.