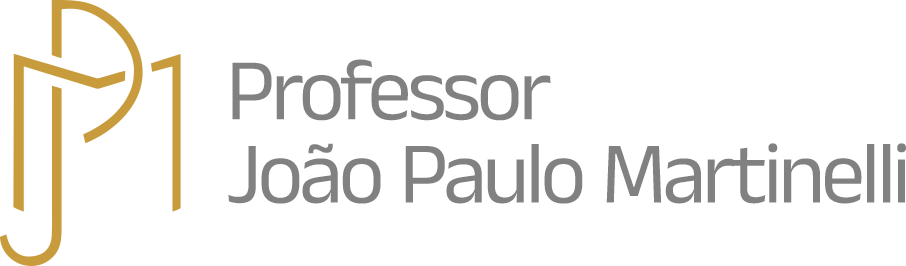Nossas Cortes Superiores confundem ainda mais aquilo que já está fora de ordem. Recentemente, em decisão liminar, o STJ suspendeu a execução provisória de pena restritiva de direitos para um condenado em segunda instância. O interessante é que a decisão cita precedentes do mesmo tribunal e do STF, segundo os quais a execução antecipada só é permitida para a pena privativa de liberdade. Algo soa muito estranho. Se não é permitido executar provisoriamente a pena mais branda, o mesmo deveria valer para a sanção mais grave, pois a liberdade é um dos direitos fundamentais mais caros ao ser humano.
As penas restritivas de direitos são sanções alternativas à pena privativa de liberdade (por exemplo, trabalho em instituição de caridade, pagamento de cestas básicas, proibição de frequentar determinados lugares etc.). Sua aplicação é permitida, nos crimes dolosos, quando a pena final do condenado não ultrapassar quatro anos e o fato não envolver violência ou grave ameaça. Para os crimes culposos, não há restrições legais para sua utilização. Em tais situações, o juiz deve converter a pena de prisão em outra medida menos gravosa ao condenado, podendo negar tal benefício somente em casos excepcionais. Essa regra segue uma política criminal de redução de danos a quem praticou crime sem maior gravidade, já que a prisão seria uma sanção muito severa, com enorme prejuízo ao sentenciado.
O critério legal da conversão da pena de prisão em restritiva de direitos considera que os crimes dolosos, praticados sem coação e com pena não superior a quatro anos, e os crimes culposos, não são reprováveis a ponto de merecer a pena de prisão. Devido à menor reprovação do ato ilícito, menos rígida deve ser a sanção. Nesse sentido, os danos causados ao condenado são menores, o que aumenta a probabilidade de a pena atender ao seu objetivo de ressocialização. Assim, pode-se afirmar que as penas restritivas de direito são menos gravosas ao condenado que a pena privativa de liberdade e, portanto, eventuais anos causados são revertidos com maior facilidade.
Pela lógica da preservação das liberdades no Estado democrático de direito, se a pena menos grave, que oferece menos danos ao condenado, deve aguardar o trânsito em julgado para sua execução, o mesmo tratamento deve ser aplicado à pena de prisão, cujos efeitos são mais gravosos. Além do argumento jurídico-constitucional – a Constituição Federal declara, com todas as letras, que ninguém pode ser considerado culpado antes de condenação transitada em julgado – há um fundamento lógico, segundo o qual deve-se aguardar a condenação definitiva para executar qualquer pena, pois sempre que houver recurso, existirá a chance de reverter decisão desfavorável. Danos maiores dificilmente são revertidos.
Há, ainda, mais um imbróglio. O STJ, em decisão liminar no HC 458.501/MG, de 12 de julho de 2018, por exemplo, suspendeu a execução antecipada da pena restritiva de direitos e autorizou o início da pena privativa de liberdade. O fundamento da decisão é o art. 147 da Lei de Execução Penal: “Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares”. Reconheceu-se, portanto, que a execução da pena alternativa está condicionada ao trânsito em julgado da condenação. Em outras palavras, não é suficiente a condenação em segunda instância. Até aí, tudo bem, pois a decisão está de acordo com a lei. O problema está na execução antecipada da pena de prisão.
Diz o art. 283 do Código de Processo Penal que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. Ora, a lei determina que a pena de prisão exige o trânsito em julgado da condenação, ou seja, não basta a condenação em segundo grau. Para completar, o texto constitucional estabelece que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
É necessário estabelecer uma regra jurisprudencial de acordo com a legislação e a Constituição Federal. Os tribunais não podem descumprir a lei por puro pragmatismo, como se a ilegalidade fosse resolver os problemas da impunidade. Cumpre-se a lei para executar a pena restritiva de direitos após o trânsito em julgado, mas ignora-se a legislação para antecipar a prisão do condenado em segunda instância. A execução antecipada de qualquer pena é ilegal e inconstitucional. A presunção de inocência é cláusula pétrea que não pode ser revogada sequer por emenda constitucional, muito menos por súmulas ou decisões judiciais.
Um dos princípios basilares do processo penal é a proibição de obrigar alguém a produzir prova contra si mesmo. O ônus da prova cabe à acusação e, se não for possível montar o cenário probatório suficiente, na dúvida, o réu deve ser absolvido.
O Estado não pode obrigar, porém, pode oferecer a oportunidade de o acusado confessar a prática de atos ilícitos em troca de benefícios previstos em lei. Quando as informações fornecidas forem relevantes para a descoberta de cúmplices ou para a recuperação do produto do crime, o colaborador terá direito à contraprestação estatal, que pode ser desde a imunidade processual até uma redução considerável da pena.
As informações obtidas por meio de colaboração premiada, isoladamente, não configuram prova. É vedada a condenação com base em dados extraídos exclusivamente de delações, sendo necessário que outros meios de prova sejam utilizados.
Essa precaução é fundamental para não desvirtuar o instituto da colaboração premiada, que deve ser instrumento de auxílio nas investigações e, portanto, precisa estar sob o controle dos princípios constitucionais. Aliás, a colaboração premiada não deve ser encarada unicamente como meio de prova, mas principalmente como meio de defesa, pelo qual o acusado abre mão de uma garantia – o direito ao silêncio – para negociar um resultado melhor a si próprio.
Apesar de estar presente em nossa legislação desde 1990, a colaboração premiada foi regulamentada somente em 2013, pela lei das organizações criminosas (Lei 12.850/2013). Trata-se, pois, de um instrumento puramente penal, cujos efeitos não podem ultrapassar os limites do processo em que o acusado busca um benefício. Como o próprio nome sugere, o acordo de colaboração premiada pressupõe um negócio que envolve duas partes, o acusado, que possui as informações, e o órgão de investigação, que tem interesse em obtê-las.
Como qualquer acordo, as partes devem cumpri-lo rigorosamente dentro das cláusulas estipuladas, sob pena de perda de legitimidade. Da mesma forma que a lei exige que as informações fornecidas sejam verdadeiras e relevantes para a investigação, deve-se esperar que o Estado faça ou deixe de fazer aquilo que foi combinado.
Recentemente, o juiz Sérgio Moro, de maneira acertada, vetou a utilização de informações obtidas via colaboração premiada por outros órgãos administrativos. Receita Federal, Tribunais de Contas ou AGU, por exemplo, não podem promover processos administrativos contra o colaborador com base nos dados do acordo. Nada mais lógico, pois as informações da delação estão restritas aos agentes envolvidos no processo criminal.
A utilização do conteúdo dos acordos por entes distintos representa verdadeira quebra de confiança e, consequentemente, traz insegurança jurídica. Os órgãos administrativos devem buscar outros meios de prova se desejam dar início ao processo em seu âmbito de atuação.
Esta semana foi noticiado que o Tribunal de Contas da União solicitou ao Supremo Tribunal Federal o acesso às delações dos executivos do grupo J&F para iniciar eventuais procedimentos administrativos relacionados a negócios realizados irregularmente com o BNDES e BNDESPar.
Nada impede o TCU de investigar e processar qualquer dos envolvidos, desde que seja por outros meios distintos.
Se o STF acatar o pedido, a colaboração premiada, enquanto instrumento de investigação, ficará prejudicada, pois eventuais colaboradores não terão mais a confiança necessária para a prestação de informações. Dificilmente alguém fará o acordo se souber que aquilo que foi combinado não será cumprido.
Se a delação premiada, como afirmam alguns, representa um avanço para a investigação criminal, o uso indevido de seus dados por outros órgãos será um retrocesso jurídico.