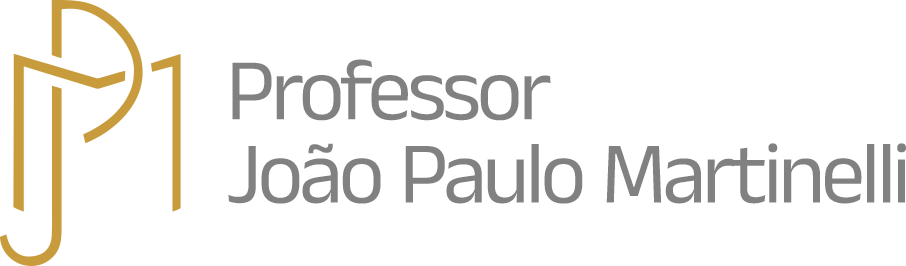* Este é um texto de opinião, não um trabalho científico, portanto, não deve ser citado como referência em pesquisas acadêmicas.
Na evolução das ciências penais, o conhecimento humano sobre o crime passou por diversos momentos, cujas modificações focavam no próprio objeto de estudo. Antes de serem estudados os requisitos do crime, o conhecimento estava dirigido ao criminoso e ao fato praticado. Quer dizer, a grande preocupação era o que levava alguém a praticar o crime e, a partir daí, buscava-se uma explicação suficiente para prevenir novos atos proibidos. Ao estudar a pena, o pesquisador buscava uma aplicação prática para a sanção criminal, especialmente a prevenção de crimes. Assim foi, por exemplo, no período em que o positivismo de Lombroso se fortaleceu na Itália e se espalhou pela Europa; sendo o criminoso alguém condicionado a delinqüir, havia necessidade de isolá-lo e reprimir seu ímpeto; não havia, portanto, possibilidade de recuperá-lo.
Faltava uma maior preocupação com o conceito de crime, pois bastava a lei dizer o que se pretendia coibir e descrever o comportamento proibido. Crime era, portanto, a conduta definida pela lei como tal. Não se discutia se havia ou não lesividade no comportamento, uma vez que o valor maior estava arraigado ao legalismo. Se a lei diz que era crime, não se discutia, apenas se cumpria. Tratava-se do conceito formal de crime, uma vez que, para haver o delito, bastava o comportamento praticado ter a “forma” do tipo penal descrito em lei.
A preocupação com a legitimidade da criminalização, do ponto de vista da conduta, não do criminoso, somente emergiu com o estudo do bem jurídico, quer dizer, a partir da atenção dos estudiosos ao objeto de tutela da norma penal. Surgia, assim, o conceito material de crime, compreendido como um comportamento lesivo ou perigoso a um interesse da comunidade. Verificava-se, portanto, que não era qualquer conduta que poderia ser considerada criminosa, pois, apesar de ser imoral, a falta de perigo não justificaria a repressão penal. Via-se no perigo da conduta uma espécie de limite ao poder punitivo do Estado.
Numa terceira etapa, a ciência do direito penal constatou a necessidade de se estudar o crime a partir de seus elementos, pois havia muitas questões confusas. Por exemplo, se uma pessoa mata outra para se defender, por que não seria crime, se o bem jurídico vida foi atingido? Uma pessoa mata a outra, para afastar uma agressão injusta, mas sua conduta enquadra-se na descrição “matar alguém”. Haveria de se apontar quais seriam os elementos que formam o crime e quais as hipóteses em que esses elementos poderiam ser afastados. Na ausência de um desses elementos, apesar da aparência criminosa, o comportamento torna-se lícito. Surge, aí, o conceito analítico de crime, que percorre um caminho lógico a partir de seus requisitos. O crime é uma conduta humana típica, antijurídica e culpável.
Instalou-se uma ordem necessária para “analisar” o comportamento humano como crime. Primeiro, deve haver uma conduta humana; segundo, a conduta deve estar tipificada; terceiro, a conduta típica deve ser antijurídica; quarto, a conduta típica e antijurídica (o injusto penal) deve ser culpável. Se o fato for crime, não significa, necessariamente, que será punível. A punibilidade não é requisito do crime, mas sua conseqüência. É por isso que uma causa de extinção da punibilidade não afasta o caráter criminoso do fato, no entanto, apenas impede sua punição na esfera penal. Devemos lembrar, não obstante, que uma pequena parcela da doutrina considera a punibilidade requisito do crime, mas essa é uma posição que não encontra acolhida significativa.
Só pode ser crime uma conduta humana. Os movimentos de um animal ou um fenômeno da natureza não podem ser ações penalmente relevantes. Excepcionalmente, podem integrar uma conduta delitiva, desde que relacionados a uma ação ou a uma omissão humanas. Por exemplo, o dono de um cão que o instiga a atacar seu desafeto ou o piloto de helicóptero que sai para voar em forte tempestade, causando um acidente. Se não houver uma conduta humana, a análise do fato como crime fica prejudicada e sequer há possibilidade de prosseguir para o juízo de tipicidade.
A seguir, passamos à análise da tipicidade. Esta ocorre em duas etapas: a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é a adequação do fato concreto aos elementos do tipo. Quer dizer, deve-se constatar se cada palavra presente no tipo realmente fez parte dos acontecimentos. Vejamos o exemplo do furto (art. 155, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel). Quando alguém pega um objeto de outrem, sem seu consentimento, com o intuito de não devolver, conseguimos enxergar a “subtração” (já que a finalidade é ficar com o objeto), a “coisa alheia” e o “para si”. Ademais, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo: dolo ou culpa. Se não houver a modalidade culposa expressamente prevista no tipo, somente se admitirá o dolo (que deve ser comprovado, não presumido). A tipicidade material, por seu turno, é a lesão significativa ao bem jurídico tutelado. O comportamento no caso concreto deve ter consequências mínimas que autorizem a intromissão do direito penal. Caso contrário, outros instrumentos devem ser aplicados para resolver o conflito e a irrelevância da lesão torna o fato materialmente atípico. A tipicidade completa deriva da soma tipicidade formal + tipicidade material.
O próximo passo é verificar a antijuridicidade, que é a contrariedade do comportamento típico ao ordenamento jurídico como um dano social. Costuma-se dizer que a tipicidade é indício da antijuridicidade, pois, se o comportamento está previsto como crime, provavelmente o ordenamento jurídico não quer a sua ocorrência. Excepcionalmente, um comportamento típico pode estar autorizado em algum lugar do ordenamento jurídico. Como exemplo, a legítima defesa e o estado de necessidade, que possuem definição no próprio Código Penal. Há, ainda, outras permissões espalhadas por outros ramos do direito, que podem se enquadrar como exercício regular de um direito ou estrito cumprimento de um dever legal. A exclusão da antijuridicidade explica-se pela lógica: não faria sentido um comportamento ser tipificado como crime e, ao mesmo tempo, estar autorizado pelo ordenamento jurídico.
Finalmente, resta saber se o fato típico e antijurídico é, também, culpável. Para isso, há necessidade de três requisitos: a imputabilidade do agente, o potencial conhecimento da ilicitude e a inexigibilidade de um comportamento diverso. A imputabilidade é a capacidade de responder criminalmente pelo fato ilícito, seja pela idade, seja pela capacidade de discernimento. O potencial conhecimento da ilicitude é a possibilidade de saber que a conduta praticada é proibida pelo direito. Não se trata de conhecer a lei penal que a proíbe, mas são as condições mínimas de saber que aquilo que se faz não está autorizado. Ninguém precisa conhecer o tipo penal que prevê a conduta delituosa, mas deve haver a possibilidade de saber que é errado comportar-se de determinada maneira. Por exemplo, não é necessário conhecer o art. 121 do Código Penal para ter consciência de que matar alguém é errado. Por último, cabe ao intérprete avaliar todas as circunstâncias que envolvem o fato para saber se o agente poderia ter um comportamento diferente e conforme o direito. Já está superada a fórmula de o juiz colocar-se no lugar do agente, mas deve-se usar o método de questionar se o sujeito concreto poderia ter outro tipo de atitude. Por isso alguns autores consideram que o fundamento da culpabilidade é a motivação para se comportamento de acordo com o ordenamento.
O presente texto é uma exposição sucinta e superficial do tema. O conceito analítico de crime exige um estudo muito profundo de cada um dos requisitos, os quais são compostos por diversos tópicos, como o nexo de causalidade, a imputação objetiva, a tentativa, as diferenças entre dolo e culpa, o concurso de agente, enfim, diversos temas de grande complexidade. A dogmática da teoria do delito exige grande empenho dos estudantes e profissionais do direito, pois ainda estamos muito atrasados nas discussões jurisprudenciais. A restrição dos leitores às obras esquematizadas e resumidas é parte da causa das deficiências que encontramos, inclusive, em tribunais superiores. A dogmática penal, sem dúvidas, é o melhor instrumento para restringir o poder punitivo do Estado e direcioná-lo aos casos que realmente possuem relevância.
Link para adquirir a obra Lições Fundamentais de Direito Penal, parte geral: http://www.saraiva.com.br/licoes-fundamentais-de-direito-penal-parte-geral-2-ed-2017-9425427.html